Kazuo Ishiguro sugere que o esquecimento é uma porta aberta para a paz entre os povos
02 novembro 2017 às 09h34

COMPARTILHAR
Os livros do nipo-britânico sustentam-se como literatura de qualidade, para além das ideias? “O Gigante Enterrado” é um romance que fica de pé

Adalberto de Queiroz
Kazuo Ishiguro foi anunciado, no dia 5 de outubro, como ganhador do prêmio Nobel de Literatura de 2017. Na redação do Jornal Opção, às vésperas do anúncio, o diretor editor-chefe, Euler de França Belém, relembrava-nos dos “esquecidos de sempre” com uma pergunta: “Academia Sueca dará o Nobel de Literatura a Philip Roth, Milan Kundera ou Joyce Carol Oates?”
Para surpresa de muitos, incluindo o crítico James Wood, da prestigiada “New Yorker”, que esperava ouvir o nome do albanês Ismail Kadaré como laureado, o premiado foi o nipo-britânico Kazuo Ishiguro, de 62 anos. James Wood lembrou que Kazuo Ishiguro foi graduado da escola de redação criativa da Universidade de East Anglia, onde era aluno da escritora Angela Carter, concluindo que “ele [Ishiguro] pode muito bem ser o primeiro produto de um curso de escrita criativa a ganhar o Nobel”.

A Companhia das Letras apressou-se em relançar as traduções dos livros do “eNobelado”: saíram “Os Vestígios do Dia” (tradução de José Rubens Siqueira, 1989), traduzido antes como “Os Resíduos do Dia”, ganhador do Man Booker Prize, “Não Me Abandone Jamais” (tradução de Beth Vieira, 2005), ambos adaptados ao cinema. Os dois, mais “O Gigante Enterrado” (tradução de Sonia Moreira, 396 páginas, 2015), aparecem na lista dos mais vendidos da revista “Veja”. Kazuo Ishiguro também é autor de “Noturnos — Histórias de Música e Anoitecer” (tradução de Fernanda Abreu), contos, e “Quando Éramos Órfãos” (tradução de José Marcos Mariani de Macedo), romance.
Esta crônica é o resultado da leitura de um livro apenas, portanto, não se pretende prover uma visão mais abrangente da obra de um escritor que tem dotes outros além da escrita; dotes que levaram seu amigo (e escritor) Salman Rushdie a brincar com o prêmio Nobel do ano anterior com o trocadilho “Roll over Bob Dylan” — uma referência a um título de canção de Chuck Berry, para advertir que o amigo “Ish”, apelido carinhoso do escritor premiado, também toca violão e compõe canções, a exemplo de Dylan. Seu livro de contos “Noturnos” relata história de músicos.

Meu interlocutor invisível aparece de novo em cena e me questiona: “Escuta, não seria o caso de deixar a leitura em banho-maria, amadurecendo em sua memória, para depois escrever sobre Kazuo Ishiguro?” Faço um muxoxo para o amigo e respondo que a notícia tem pressa e que talvez volte ao tema em outras crônicas, mas urge que me dedique a anotar o mais recente romance de Kazuo Ishiguro, decisão firmada quando vi algumas entrevistas do escritor no YouTube, ao fim das quais o autor conquistou a simpatia deste cronista.
— “Ah, então, está dizendo que gosta de Ishiguro? Não está vedado ao crítico dizer ‘gostei – não gostei?’” — provoca meu interlocutor.
Minha profissão de fé na crônica literária me exime de mais justificativas e passo a analisar o fato de que Kazuo Ishiguro inscreveu seu nome no rol da fama que é o Nobel dos escritores do Reino Unido, filiando-se ao clube que começa com Rudyard Kipling, premiado em 1907, passando por William Golding (1983), V.S. Naipaul (2001); e chegando a Doris Lessing (2007); ou, se considerarmos seu local de nascimento (Japão), Ishiguro junta-se a 23 outros premiados (principalmente nas áreas de Física e Química), e em literatura a Yasunari Kawabata (1968) e a Kenzaburo Oe (1994); além do Nobel da Paz de 1974, Eisaku Sato. Não é um clube que aceite qualquer um, convenhamos e, com certeza, foi isso que fez o laureado considerar o Nobel como “uma honra magnífica”.

Pacifista europeu
O romance que li tem a característica de ter sido maturado por uma década desde a publicação do anterior (“Não Me Abandone Jamais”, espécie de distopia) e é livro sutil que trata de temas relevantes para a Humanidade usando o mito, a alegoria e a fantasia histórica. Embora considerada como uma “narrativa plana” (James Wood), o livro está mais próximo de William Golding do que de “Game of thrones”, conforme disse o autor em entrevista que concedeu a Ubiratan Brasil (de “O Estado de S. Paulo”, em 18 de agosto 2015 ). É seguramente romance de um pacifista europeu do século XXI.
Quando perguntado pelo repórter se, “de alguma forma, obras como ‘Game of Thrones’ e similares auxiliaram seu trabalho?”, Kazuo Ishiguro foi enfático: “Na verdade, não. Evito ser influenciado pelas leituras que faço, pois o grande desafio quando se escreve é manter seu mundo ficcional intacto, sem nenhuma influência externa. Não assisti a nenhum episódio de ‘Game of Thrones’, pois temia influenciar a forma como visualizaria as cenas do meu romance. Nessa fase do trabalho, prefiro ler obras de não-ficção que são mais valiosas como fonte de pesquisa”.

Situar o romance num período da história da Grã-Bretanha se deu por acaso, sustenta Kazuo Ishiguro. Historicamente, entre os séculos VI ou VII (para o escritor poderia ter sido “a Bósnia dos anos 1990”, que representa a sangrenta divisão da velha Iugoslávia e que termina com o “Acordo de Dayton”); no livro corresponderia à paz de Axelum (ou Axelus), ou “a lei dos inocentes ”, construída no tempo do rei Artur para pôr fim à guerra entre Bretões e Saxões — o que prova que Kazuo Ishiguro está preocupado com os temas políticos (e a manutenção da paz) na Europa atual e sua conexão com o passado.
Memória e esquecimento
Mas não nos apressemos porque, afinal, está em questão o uso da memória e o poder do esquecimento. O romance “O Gigante Enterrado” é a história de um casal de idosos que parte em viagem em busca do filho, em meio a uma Grã-Bretanha envolvida em névoa (literal) e mental — que representa o fato de o país ter mergulhado em uma amnésia histórica nacional, apelidada justamente de “a névoa” — que seria consequência do sopro de uma dragoa (Querig), o monstro tirânico, cuja presença parece assegurar a paz mediante o esquecimento dos horrores da guerra, mas que deve ser abatido para que se restaure a memória.

Kazuo Ishiguro mistura mito, alegoria à ficção histórica. Ora, isso pode ter um enorme apelo à tradição moderna dos narradores britânicos, de um J.R.R. Tolkien a William Golding, chegando a best sellers que se tornam séries televisivas de grande apelo popular. Definitivamente, não parece ser o que o escritor pretende.
Ao editor de Cultura de “O Estado de S. Paulo”, Ubiratan Brasil, Kazuo Ishiguro reforçou: “Nesse romance, questiono se essas lembranças não estão de fato enterradas e se elas, ao ressurgirem, não podem provocar um novo ciclo de violência. Isso leva a um novo dilema, pois não sabemos se é melhor provocar mesmo um conflito para então recomeçar ou se seria melhor manter essa memória enterrada e esquecida”.

A presença de monstros, dragões, ogros, fadas, magos e guerreiros quase invencíveis é, assim, uma mera consequência do tempo histórico; afinal, vivendo-se sobre o domínio da história do rei Arthur, transporta-se o leitor para uma atmosfera imaginativa que o faz acompanhar a viagem do casal de idosos, Axl e Beatrice, por uma Grã-Bretanha povoada de crenças e de um poder imaginativo que aproxima cristãos e pagãos (bretões e saxões) que dividem o território sob uma tênue paz conquistada. Aí aparecem o mago Merlin, o guerreiro asturiano sir Gawain (sua inseparável armadura e seu cavalo Horácio) — lenda na Inglaterra desde o ciclo de histórias dos cavaleiros da Távola Redonda. Aparece o mago Merlin, para povoar as memórias guerreiras de Gawain, a paz de Axl e as lutas intermináveis do guerreiro saxão Wistan.
As aventuras dos cavaleiros e as guerras para garantir o território povoam o imaginário de europeus, como os que são recuperados por Kazuo Ishiguro em “O Gigante Enterrado”, cuja abertura é esta: “Você teria que procurar muito tempo para encontrar algo parecido com as veredas sinuosas ou os prados tranquilos pelos quais a Inglaterra mais tarde se tornaria célebre. Em vez disso, o que havia eram quilômetros de terra desolada e inculta; por todo lado, trilhas toscas que atravessavam colinas escarpadas ou charnecas áridas. A maior parte das estradas deixadas pelos romanos já teria àquela altura se fragmentado ou ficado coberta de vegetação, muitas delas desaparecendo em meio ao mato. Uma névoa gelada pairava sobre rios e pântanos, muito útil aos ogros que ainda eram nativos daquela terra. As pessoas que moravam ali perto – e pode-se imaginar o grau de desespero que as teria levado a se estabelecer num lugar tão soturno – teriam razão de sobra para temer essas criaturas, cuja respiração ofegante se fazia ouvir muito antes de seus corpos deformados emergirem na neblina. Mas esses monstros não causavam espanto. As pessoas da época os teriam encarado como perigos cotidianos, e naquele tempo havia uma infinidade de outras coisas com que se preocupar: como obter alimentos do solo duro; como não deixar que a lenha acabasse; como curar a doença que podia matar uma dúzia de porcos num único dia e provocar brotoejas esverdeadas nas bochechas das crianças”.
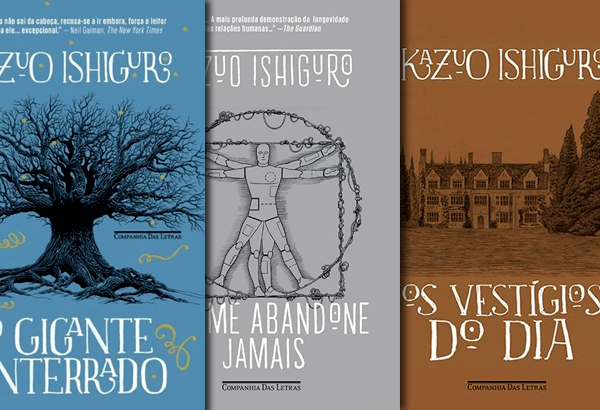
O leitor se vê, assim, em meio a uma história de cavaleiros da Idade Média e somos convidados pelo autor a penetrar nesse mundo, onde vivem Axl e Beatrice, o casal de idosos protagonistas do romance, um tempo-lugar, após a guerra entre saxões e bretões, em que há um período de paz, época em que, segundo o autor, “a Inglaterra não estava muito além da Idade de Ferro”, mas onde, além da terra desolada da descrição acima, pode até “encontrar castelos cheios de música, boa comida, excelência atlética; ou mosteiros com moradores extremamente cultos. Mas não há como negar: mesmo montado num cavalo forte, com o tempo bom, você poderia passar dias cavalgando sem avistar nenhum castelo nem mosteiro se elevando do meio da vegetação”.
Durante a viagem que faz o casal Axl e Beatrice em busca do filho (e do passado perdido do casal), há o estorvo de uma memória vacilante, com que lutam para manter seu amor, independentemente do que possa ser lembrado, caso recuperem a memória plena dos fatos passados.

É como se fossem a afirmação do desejo pessoal do criador, para quem “escrever é minha única forma de preservar a memória — não de uma forma científica, mas de como o homem consegue preservar sua dignidade ao longo dos tempos. É o que me faz voltar ao conflito central do romance: é melhor preservar alguma lembrança que ponha em risco aquela sociedade ou seria mais prudente esquecê-la para preservar a paz? Neste romance, decidi falar sobre a memória social e o que faz uma nação se lembrar e se esquecer”.
É comum as pessoas, usando o senso comum, afirmarem que “o Brasil é um país sem memória” ou aplicam a um adversário político o “demônio do esquecimento”, como o causador de tudo que possam fazer de atentado à memória nacional. Ora, é justamente o “demônio do esquecimento” a metáfora platônica, vinculada a uma das heresias — a transmigração das almas — denunciadas por Irineu de Lião. Kazuo Ishiguro transforma este demônio em anjo protetor da história da nação bretã e do casal de protagonistas: “Você pode estar se perguntando por que Axl não pedia aos outros aldeões que o ajudassem a recordar o passado, mas isso não era tão fácil quanto se poderia supor, pois naquela comunidade o passado raramente era discutido. Não que fosse um tabu, mas ele havia de algum modo sumido em meio a uma névoa tão densa como a que cobria os pântanos. Simplesmente não ocorria àqueles aldeões pensar sobre o passado — nem mesmo o recente”.
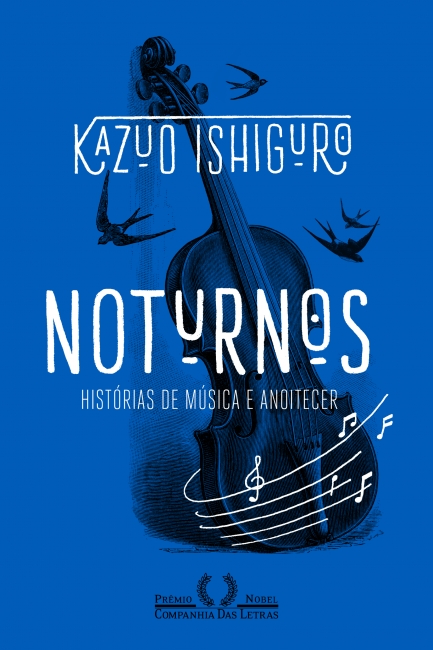
O esquecimento do ponto de vista sociológico já seria processo seletivo que nos induz a lembrar de temas e pessoas que nos interessam e pôr sob o véu do esquecimento um outro tanto de pessoas (e temas) que nos desagradam. “A memória tem frequentemente sido percebida como uma questão social, coletiva, em contraste com a criatividade, em geral entendida como uma propriedade ou realização individual”, afirma o filósofo José Maurício Domingues. O filósofo Olavo de Carvalho postula que “uma falsa imagem do ontem é o mais firme sustentáculo da mentira de hoje”. A memória guardada e preservada pelos homens estaria na raiz da consciência do indivíduo, segundo o pensador franco-suíço Maurice Pradines : “…a consciência é, principalmente, uma memória que se tem em mãos para enfrentar os desafios do futuro” e isso “pressupõe a profundidade do olhar que o indivíduo é capaz de lançar sobre seu passado”.
Ishiguro mostra-se interessado na superfície, ao fazer o uso do esquecimento e da recuperação da memória dos personagens, como formas de exorcizar o mal pretérito, com finalidade pacificadora. Ele intervém na história que conta, baseado em estudos históricos e não em pastiche de outros romances, para afirmar seu terror (afinal é um nipo-britânico) em relação ao fosso profundo em que está fundada a ilusão de conexão com o mundo — para usar a mesma frase que os jurados do Prêmio Nobel usaram para ressaltar a força da ficção de Ishiguro.
“Pois de que adianta uma lembrança voltar da névoa se for apenas para apagar outra? Você me promete …que vai guardar para sempre no seu coração o que está sentindo por mim agora, não importa o que você veja quando a névoa passar?” — pergunta Axl a Beatrice, temeroso de que a memória do passado possa afetar o amor que mantém o casal unido. Semelhante o caso para o guerreiro saxão Winstan, cuja missão é matar a dragoa Querig e, com isso, libertar os povos do esquecimento; o temor do pacifista Axl é que “(…) o que velhos ódios irão libertar nestas terras agora? (…) Quem sabe o que virá quando homens eloquentes começarem a fazer velhos rancores rimarem com um novo desejo de conquistar terras e poder?”

— “O gigante, que antes estava bem enterrado, agora se remexe. Quando ele se levantar, como com certeza fará em breve, os elos de amizade existentes entre nós [saxões e bretões] vão se mostrar tão frágeis quanto os nós que as meninas fazem nos caules de pequenas flores. Homens irão atear fogo nas casas dos vizinhos à noite e enforcar crianças nas árvores de madrugada. Os rios vão exalar o fedor dos cadáveres intumescidos depois de dias de viagem dentro da água. E, quanto mais avançarem, mais os nossos exércitos crescerão, inchados pela raiva e pela sede de vingança. Para vocês, bretões, vai ser como se uma bola de fogo estivesse rolando na sua direção. Os que não fugirem morrerão. E, de região em região, esta irá se tornar uma nova terra, uma terra saxã, sem nenhum vestígio do tempo do seu povo aqui, a não ser um ou outro rebanho de ovelhas vagando, desprotegido, pelas colinas.”
A impressão que Kazuo Ishiguro nos passa neste romance é que ele não se sente confortável ao fazer o leitor lembrar-se de tudo. Ao mal-estar nas suas memórias de infância no Japão de mais de meio século atrás e ao temor típico de quem convive com hordas de migrantes na Europa de hoje somam-se na composição de uma ode ao esquecimento (e ao perdão) no romancista europeu adulto, pois à Grã-Bretanha (por extensão à Europa), onde o escritor vive, onde se educou e se afirmou como escritor. Parece mais adequado ser mantida sob uma névoa protetora da memória do passado.
E no Brasil?
Essa atitude em relação ao uso do esquecimento — válida para um casal e sensata aos acordos de paz — mostra-se inócua em países como o Brasil, onde a memória do passado se nos apresenta com efeito oposto, seja como sinal de respeito ao passado, seja para garantir um futuro pacífico e próspero, não totalitário. O pensador brasileiro Vicente Ferreira da Silva (1916-1963), num ensaio inesquecível sobre “O barco da morte”, poema do poeta e prosador britânico D. H. Lawrence, cunha uma frase lapidar: “É da serenidade do esquecimento que poderá surgir a rosa da vida, flor que irrompe da noite, da planta invisível da morte”.

Embora a frase tenha sido cunhada em outro contexto — Ferreira da Silva trata do poema “O barco da morte” (D. H. Lawrence; “A nau da morte”, na tradução de Aíla de Oliveira Gomes; trecho: “E é tempo de partir, dizer adeus/a nosso próprio eu, e achar uma saída/do eu que caiu”) —, as condições do poder do esquecimento são similares. Também em “O gigante…” há um barco e um barqueiro a lembrar-nos um ritual de passagem das pessoas para um mundo em que a memória e o esquecimento serão salvíficos.
Em Kazuo Ishiguro, ao contrário do que se vê em Lawrence e Dante (no Purgatório), o esquecimento comparece como uma certa dose de omissão e de perdão históricos necessários à manutenção da paz interior e das nações; pois, somente a partir do esquecimento pode-se ter acesso a uma espécie de anistia de muitos atos reprováveis — como parece ser a tese de alguns para a sobrevivência da Europa atual. Infelizmente, o esquecimento histórico (a amnésia coletiva do livro) parece não se aplicar às nações jovens como o Brasil.
Parece evidente que os saxões que desembarcaram, há séculos, nas costas da Grã-Bretanha dos séculos VI e VII soam como uma metáfora dos milhares de africanos que desembarcam em diversos portos europeus da atualidade e a benevolência não-beligerante do laureado escritor aposta no esquecimento como mantenedor da paz europeia (ou pelo menos britânica). O mesmo raciocínio parece aplicável aos nacionalismos beligerantes que dissolveram a velha Iugoslávia, durante a guerra do Kosovo.
Se há uma crítica que pode ser feita ao “Gigante Enterrado” em termos de técnica narrativa, esta foi verbalizada por James Wood, na “New Yorker”: “Kazuo Ishiguro escreve uma prosa que suscita um equilíbrio — como estivesse ao nível do mar plano, com muitas braças invisíveis abaixo dele. Ele evita o ornamento ou o excedente, e parece aceitar de bom grado o clichê, o lugar-comum; alguns episódios são tão amenos quanto o leite, uma atmosfera de calma estranhamente desocupada, cuja persistência suave parece ser persistente e ameaçadoramente irreal. Seu romance anterior, ‘Never Let Me Go’ (2005, ‘Não Me Abandone Jamais’), continha passagens que pareciam ter sido inseridas em uma competição chamada ‘The ten most fatal fiction scenes’ (algo como o ‘Top 10 das cenas mortais da ficção’). Seus narradores desconfiados ou silenciosos, como o pintor Ono, em ‘Um artista do mundo flutuante’, ou o mordomo Stevens, em ‘The Remains of the Day’, contam histórias que abafam suave e egoisticamente segredos, compromissos vergonhosos, e as feridas do passado”.
E sobre “O Gigante Enterrado”: “Ele [Ishiguro] não escreveu um romance sobre amnésia histórica, mas uma alegoria de amnésia histórica, inserido em uma Grã-Bretanha do século VI ou do século VII, atrapalhado com dragões, ogros e cavaleiros arthurianos. O problema não é fantasia, mas alegoria, que existe para literalizar e simplificar. O gigante não está enterrado o suficiente” — conclui James Wood (autor de “Como Funciona a Ficção”, Sesi, 232 páginas, tradução de Denise Bottmann, e de “Coisa Mais Próxima da Vida”, Sesi, 128 páginas, tradução de Celia Euvaldo).
De minha parte, não chego a ser tão ácido, porque, como disse acima ao meu interlocutor escondido, a prosa de Ishiguro me atraiu e me fez ler sem tédio as quase 400 páginas de “O Gigante Enterrado” — embora também creia que o final é de uma platitude de anticlímax para quem espera um grand finale. É o que tinha a demonstrar, dileto leitor, e se não o empolguei a enfrentar “O Gigante Enterrado”, a caçar a dragoa Querig, espero ao menos motivá-lo a pensar sobre o uso que Kazuo Ishiguro faz do esquecimento em nome da paz entre os povos.
Adalberto de Queiroz é jornalista e poeta. Autor de “Frágil Armação” (Caminhos, 2017). Email: do autor: [email protected]


